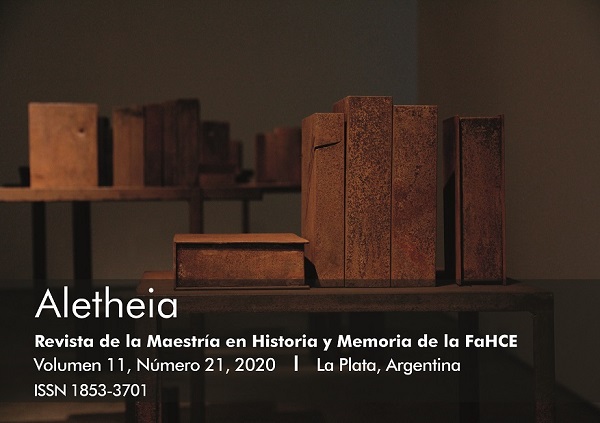Poesia brasileira e ditadura: memória e desaparecimento em Ricardo Domeneck, Eduardo Sterzi, Paulo Ferraz e Priscila Figueiredo
##plugins.themes.bootstrap3.article.main##
Resumo
O artigo analisa poemas de Ricardo Domeneck, Eduardo Sterzi, Paulo Ferraz e Priscila Figueiredo, que tratam de questões sobre graves violações de direitos humanos cometidas pelo Estado brasileiro, como a memória dos desaparecidos ou das vítimas da ditadura militar. A análise enquadra-se no campo da literatura e justiça de transição, com o objetivo de estudar o cruzamento entre invenção literária e memória social, no tocante ao legado dos crimes contra a humanidade praticados pelo Estado brasileiro. Todos esses autores nasceram nos anos 1970, durante a ditadura militar no Brasil, que durou de 1964 a 1985. Os poemas analisados foram escritos no século XXI, em um novo ciclo de memória cultural no Brasil, segundo a hipótese de Rebecca Atencio, no qual os temas ligados í ditadura voltaram a ser objeto da literatura brasileira com mais frequência. No caso de Paulo Ferraz, o poema diz respeito í Era Vargas (1930-1945). Domeneck, cujo poema é mencionado no relatório da Comissão Nacional da Verdade, e Sterzi referem-se í ditadura militar. Priscila Figueiredo trata das continuidades do passado autoritário nos crimes do Estado brasileiro após a democratização. Nesses quatro casos, a poética desses autores difere da que argentinos reunidos sob a categoria dos “hijos” têm estabelecido.
Downloads
##plugins.themes.bootstrap3.article.details##
Obra disponible bajo una Licencia Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.es).
Referências
A Manhã (1925). Paulo Torres entre os drusos. Rio de Janeiro, 23 de março, p. 1.
Abreu, A. Alves de (2009). Instituto Superior de Estudos Brasileiros (ISEB). CPDOC/FGV - Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporí¢nea do Brasil. Recuperado de http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/instituto-superior-de-estudos-brasileiros-iseb
Atencio, R. J. (2014). Memory’s Turn: Reckoning with dictatorship in Brazil. Madison: The University of Wisconsin Press.
Axat, J. (2008). Ylumynarya. City Bell: Libros de la Talita Dorada.
Badagani, A. (2014). Los detectives jacobinos y la poética de los hijos de desaparecidos. Estudios de Teoría Literaria, 3(6), 43-55. Recuperado de https://fh.mdp.edu.ar/revistas/index.php/etl/article/view/962/1016
Brasil (1967). Decreto-lei 314, de 13 de março de 1967. Define os crimes contra a segurança nacional, a ordem política e social e dá outras providências. Recuperado de http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/1965-1988/Del0314.htm
Cacaso (1997). Não quero prosa. Vilma Arêas (org.). Campinas: Unicamp; Rio de Janeiro: UFRJ.
Coelho, A. L. (2015). Esta nossa ruína. O Público. Lisboa. Recuperado de https://www.publico.pt/2015/11/08/culturaipsilon/opiniao/esta-nossa-ruina-1713539
Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos, Instituto de Estudos sobre a Violência do Estado (2009). Dossiê Ditadura: Mortos e desaparecidos políticos do Brasil 1964-1985, São Paulo: Imprensa Oficial do Estado de São Paulo.
Comissão Estadual da Verdade Dom Helder Cí¢mara (2017). Relatório final. Recife: Governo do Estado de Pernambuco. Recuperado de http://www.acervocepe.com.br/acervo/arquivos-da-comissao-estadual-da-memoria-e-da-verdade-dom-helder-camara
Comissão Nacional da Verdade (2014). Relatório. Brasília: Ministério da Justiça. Recuperado de http://cnv.memoriasreveladas.gov.br/
Costa, M. A. M. (2014). O sistema literário brasileiro em Aleijão, deEduardo Sterzi. Brasília, Departamento de Teoria Literária e Literaturas do Programa de Pós-Graduação em Literatura, Universidade de Brasília. Dissertação de mestrado em Literatura e Práticas Sociais. Recuperado de https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/19770/1/2015_MelinaAlvesMeloCosta.pdf
Desarquivando o Brasil (2012). Convocação da 5 ª Blogagem Coletiva #desarquivandoBR. Recuperado de https://desarquivandobr.wordpress.com/2012/03/18/convocacao-da-5a-blogagem-coletiva-desarquivandobr-3/
Domeneck, R. (2005). Carta aos anfíbios. Rio de Janeiro: Bem-Te-Vi.
Domeneck, R. (2013). Tal Nitzán traduz para o hebraico meu poema "Ísis Dias de Oliveira (1941 - ?)". Rocirda Demencock. Recuperado de http://ricardo-domeneck.blogspot.com/2013/12/tal-nitzan-traduz-para-o-hebraico-meu.html
Domeneck, R. (2014). A literatura brasileira sob regimes autoritários. Deutsche Welle. Recuperado de https://www.dw.com/pt-br/a-literatura-brasileira-sob-regimes-autorit%C3%A1rios/a-17534304
Domeneck, R. (2015). Medir com as próprias mãos a febre. Rio de Janeiro: 7 Letras.
Ferraz, P. (2018). Vícios de imanência. São Paulo: Dobradura, Sebastião Grifo.
Escola Superior de Guerra (1959). Introdução ao estudo da guerra revolucionária. Documento reservado. Arquivo Ana Lagí´a. Recuperado de http://www.arqanalagoa.ufscar.br/pdf/DocumentosGuerraRevolucionaria/Introdu%C3%A7%C3%A3o%20ao%20Estudo%20-%20C-85-59.pdf
Fernandes, P. (2010). Ditadura militar na América Latina e o Sistema Interamericano de Direitos Humanos: (in)justiça de transição no Brasil e Argentina. XIV Encuentro de Latinoamericanistas Españoles: Congreso internacional, Santiago de Compostela, pp.1674-1692. Recuperado de https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00531273/document
Fernandes, P. (2019). Poéticas da migrí¢ncia e ditadura: exílio e diáspora nas obras de Julián Fuks e Francisco Maciel. Estudos de Literatura Brasileira Contemporí¢nea, 58, http://dx.doi.org/10.1590/2316-4018585
Figueiredo, E. (2017). A literatura como arquivo da ditadura brasileira. Rio de Janeiro: 7 Letras.
Figueiredo, P. (2018). Nunca me dizem nada. InSURgência: Revista de Direitos e Movimentos Sociais, 4(1), 547-549.
Jiménez, A. (2013). Ferreira Gullar conversa com Ariel Jiménez. Trad. Vera Pereira. São Paulo: CosacNaify.
Hollanda, H. Buarque de (1980). Impressões de viagem: CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. São Paulo: Editora Brasiliense.
Lovatto, A. (2013). Um Projeto de Revolução Brasileira no Pré-1964: Os Cadernos do Povo Brasileiro. En M. Midori Deadecto y J. Mollier (ed.), Edição e revolução: leituras comunistas no Brasil e na França. São Paulo: Ateliê Editorial, pp. 153-182.
Movimentos sociais e organizações da sociedade civil (2018). InSURgência: Revista de Direitos e Movimentos Sociais, 4(1), pp. 528-536.
Olmos, A. C. (2012). Narrar na pós-ditadura (ou do potencial crítico das formas estéticas). In: M. Seligmann-Silva, J. Ginzburg, F. F. Hardman (ed.) Escritas da violência. Rio de Janeiro: 7 Letras, vol. II, pp. 133-142.
Passos, J. (2017). Uma mãe í espera: a volta de Rafael Braga í casa. Revista Piauí. Recuperado de https://piaui.folha.uol.com.br/uma-mae-a-espera/
Pina, R. (2018). Símbolo da seletividade penal, caso Rafael Braga completa cinco anos. Brasil De Fato. Recuperado de https://www.brasildefato.com.br/2018/11/22/justica-reduz-pena-de-rafael-braga-e-o-absolve-associacao-ao-trafico
Ridenti, M. (2000). Em busca do povo brasileiro: artistas da revolução, do CPC í era da TV. Rio de Janeiro: Record.
Schwarz, R. (1978). O pai de família e outros estudos. Rio de Janeiro: Paz e Terra.
Sterzi, E. (2001). Prosa. Porto Alegre: Instituto Estadual do Livro.
Sterzi, E. (2009). Aleijão. Rio de Janeiro: 7 Letras.
Sterzi, E. (2014). Terra devastada: persistência de uma imagem. Remate de Males. (34), 95-111, https://doi.org/10.20396/remate.v34i1.8635834
Sterzi, E.; Mello, H.; Ferraz; Lima, M. R. de; Gandolfi, L. (2010). A conversa com o dedo aponta para o cadinho menos literário do poema, Fórum de literatura brasileira contemporí¢nea, 2(3). Recuperado de: https://doi.org/10.35520/flbc.2010.v2n3a17338
Tavernini, E. (2018). Poesía, política y memoria en la Argentina reciente: La colección Los Detectives Salvajes (2007-2015). Universidad Nacional de La Plata, Tesis para optar por el grado de Magíster en Historia y Memoria. Recuperado de http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/75218
Teles, M. A. de Almeida (2017). Breve história do feminismo no Brasil e outros ensaios. São Paulo: Alameda.
Weintraub, F. (2013). O tiro, o freio, o mendigo e o outdoor: representações do espaço urbano na poesia brasileira pós-1990. São Paulo: Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. Tese de Doutorado em Teoria Literária e Literatura Comparada. Recuperado de https://teses.usp.br/teses/disponiveis/8/8151/tde-10022014-102254/pt-br.php